#19 - Eros e a caneta
"escrever é uma infeliz necessidade quando o que desejamos é substituir a epifania pelo texto." (richard rorty)
Querido leitor,
Estes têm sido dias estranhos e mágicos.
Sinto-me voltando à infância — não no sentido infantil da palavra, que, por sinal, não tem nada de errado — acredito piamente que o grande erro do adulto é insistir em deixar de ser criança —, mas sim no sentido da visão mágica do mundo. De muitas maneiras, o mundo ao meu redor voltou a ter aquela aura mágica que tinha na minha infância. Ou, melhor dizendo, eu voltei a olhar o mundo com olhos de criança, com olhos eternamente curiosos e apaixonados pelas descobertas à frente.
Esse olhar apaixonado pelo mundo conversa com o olhar apaixonado pela escrita. A palavra, de muitas formas, sempre foi central na minha vida — só posso descrever a minha relação com a poesia, por exemplo, como mágica. Foi Emily Dickinson quem disse que (em tradução minha):
“Se eu ler um livro e ele fizer meu corpo inteiro ficar tão gelado que fogo algum puder me aquecer, eu sei que é poesia. Se eu sentir fisicamente como se o topo da minha cabeça tivesse sido arrancado, eu sei que isso é poesia. São as únicas maneiras que eu sei reconhecer poesia. Existe outra?”
Estar apaixonada é sentir-se envolvida por algo inexplicável. Os poetas há milênios tentam descrever o amor, lutar contra ele, entregar-se, voltar atrás, correr mais um pouco — ainda assim, tudo o que temos é movimento. São registros de uma dança, não a sensação em si. A sensação continua sendo inexplicável. É, como Emily Dickinson disse, como se o corpo inteiro ficasse gelado, como se o topo da cabeça tivessse sido arrancado. É uma sensação assombrosa. Ainda assim, dizer isto nada diz a quem nunca se apaixonou. Se apaixonar é uma descoberta.
Estar apaixonada é uma epifania. Escrever também.
Eu gosto de como a Anne Carson aproxima o amor romântico da escrita.
Faz alguns meses que estou lendo Eros, o doce-amargo (na tradução de Julia Raiz), um ensaio dela que virou livro (acredito que tenha sido seu primeiro livro, por sinal), e a cada capítulo dou uma parada na leitura e fico pensando pensamentos a respeito do que ela falou. Segundo o filósofo Richard Rorty, “Escrever é uma infeliz necessidade” quando o que desejamos é “substituir a epifania pelo texto”.
Isto me lembrou de um post que encontrei esses dias — post que escrevi há 8 anos, falando sobre a escrita:
Escrever é horrível — porque escrever é sentir algo germinando e, ao mesmo tempo que o sentimento lhe apraz, é preciso ser paciente; uma vez que a plantinha começar a dar as caras para o sol, tentamos colocar em palavras a magia espantosa que é contemplar os primeiros raios de sol delineando o verde daquela folha, mostrando detalhes de cuja existência não fazíamos ideia, embora pudéssemos senti-los em algum lugar lá dentro de nosso íntimo. Escrever é, como disse o filósofo, uma infeliz necessidade. Para o escritor, escrever é tentar nomear algo inominável, como disse Kafka. Não é diferente de se apaixonar.
“Controlar os limites é possuir a si mesmo. Para indivíduos a quem o autocontrole se tornou importante, o influxo de uma emoção forte e repentina vinda de fora não é um evento que passa despercebido, como poderia acontecer em um ambiente oral, onde tais incursões são condutores comuns da maioria das informações importantes que uma pessoa recebe. Quando um indivíduo reconhece que é o único responsável pelo conteúdo e coerência da sua própria pessoa, um influxo como eros torna-se uma ameaça pessoal concreta. Assim, nos poetas líricos, o amor é algo que ataca ou invade o corpo de quem ama para lhe arrancar o controle, é uma luta pessoal, entre o deus e sua vítima, que envolve vontade e força física. Os poetas registram essa luta do interior de uma consciência que talvez seja nova no mundo – do corpo como uma unidade de membros, sentidos e eu, espantado com sua própria vulnerabilidade.”
— Eros, o doce-amargo, Anne Carson
Em seu ensaio, Anne Carson nos conduz por uma linha de pensamento cujo sentido é mostrar a maneira como a palavra escrita é também erótica. Nas representações clássicas, Eros é o deus do amor e do erotismo. A autora diz que “A palavra grega eros denota ‘querer’, ‘falta’, ‘desejo pelo que não está lá’. Quem ama quer o que não tem. É, por definição, impossível para o amante ter o que deseja se, assim que ele tem, não quer mais. É mais do que um jogo de palavras. Há um dilema dentro de eros que tem sido considerado crucial por pensadores desde Safo até hoje”. Em determinado momento do livro, ela fala que “eros imprime o mesmo fato contraditório: amor e ódio convergem no desejo erótico. Por quê?”. Para mim, é porque amar implica se entregar, perder o controle. E a perda de controle, ainda que desejada, assusta. No rosto de quem ama enxerga-se o rosto da pessoa amada. Ali, há outro rosto escondido. Não se é mais por inteiro. É-se um ser metamorfoseado em dois. Se os ritos dionisíacos precisam da cessão do controle é justamente porque habitar o outro — seja a nível emocional, seja a nível sexual — é entregar-se, confiar no desconhecido.
A escrita é um grande desconhecido.
A gente nunca sabe para onde o texto vai nos levar. Podemos planejar escrever a respeito de um tema de que gostamos, mas, na hora da escrita, somos levados a lugares surpreendentes. A escrita mostra os nossos limites — e nos apresenta novos locais. Eu não sou a mesma pessoa que era ao começar a escrever este texto — minha mente já perseguiu a palavra por bosques, por casas abandonadas e castelos lotados de gente atarefadíssima. Cada um destes lugares me mostra um viés diferente, me traz uma lembrança há muito guardada, me mostra algo novo pelo qual fico entusiasmada para descobrir. A escrita é descoberta. E traduzir em palavra escrita aquilo que sentimos ao sermos atingidos por uma epifania é impossível. Todo mundo que escreve já sentiu isso de alguma forma. Eu posso escrever que ter uma epifania é como ser atingida por um raio, uma corrente elétrica que passa por todo o meu corpo. Mas não é exatamente isso.
Lembro do momento exato em que sou atingida pelas ideias dos meus textos. As sementes ainda estão germinando — vezenquando eu as sinto se remexerem na terra do subconsciente, mas demora um pouco para que as primeiras folhas deem as caras em direção ao sol. Eu sei que há algo ali, mas não sei o quê — e esse não saber me deixa inquieta. Eu tenho algo a dizer, porém, aquele algo não está pronto, a palavra escrita é incompreensível a nível racional, existe apenas a sensação do perseguir algo que nos fascina, sem saber o que de fato encontraremos ao alcançá-lo. Não luto contra essa sensação — permito que germine no seu próprio tempo, me recuso a cavoucar a terra quando há algo lá dentro crescendo e vivendo. Quando sinto a primeira folha brotar, fico imóvel. A inquietação para — finalmente, eu encontro o meu objeto de desejo. A partir dali, a palavra pensada deve ser traduzida em palavra escrita. Escrever é tradução.
Escrita a tradução, sinto alívio — e posso partir para outros assuntos. Eu não estou mais esperando aquela planta germinar. Mas, ainda que traduzir — escrever — conceda alívio a quem escreve, terminado o texto, logo nos percebemos receptivos, à espera da nova epifania. O estado de epifania é um estado de êxtase, o qual, sabemos, nos deixará inquietos — mas também nos preencherá com um entusiasmo sem par, algo que perseguiremos inefavelmente ao longo dos dias, e pelo qual também somos perseguidos.
Os processos de tradução do sentimento para a linguagem pensada e, por fim, a linguagem falada sempre vão deixar a desejar. Escrita, neste sentido, é exercício — não é à toa a metáfora do eros experienciado por quem escreve: ao longo do tempo, o tema do amor na arte clássica foi representado especialmente pelo momento em que a pessoa apaixonada está atrás, quase alcançando, o objeto de seu desejo. Essa perseguição ao objeto de nossas afeições é esgotante. Lembro sempre de um trecho de A história sem fim (livro de Michael Ende, traduzido por Maria do Carmo Cary, que virou aquele filme do cachorro gigante que na verdade era um dragão) que fala sobre desejos:
“Naquele momento, Bastian fez uma importante descoberta: podemos estar convencidos durante muito tempo — anos talvez — de que queremos alguma coisa, se soubermos que nosso desejo é irrealizável. Porém, se de súbito nos vemos diante da possibilidade de este desejo ideal se transformar em realidade, passamos a desejar apenas uma coisa: nunca tê-lo desejado.”
Eros existe na linha entre desejo e falta. A partir do momento em que temos o nosso objeto de afeição — seja este a pessoa amada ou um desejo —, a inquietação cessa. Mas nem sempre gostamos da calmaria. O interesse muda, e, após tanto tempo perseguindo-se o desejado, é difícil parar de correr.
Mas parar de correr é preciso. Uma vez parados, no entanto, traduzir a corrida é impossível. Dizer “corri um longo caminho atrás do que amo” pode ser poético, mas não é verdadeiro — pressupõe que foi torturante a corrida, quando, na verdade, o movimentar-se na eterna busca entre desejo-falta é uma forma de êxtase, é a forma de êxtase de quem ama, do poeta, do artista.
Quando criança encontrei por acaso uma graphic novel com vários contos ilustrados de Edgar Allan Poe. Eu não sabia quem Poe era, mas achei tudo muito bonito — bonito de uma forma obscura, com ilustrações tenebrosas que me remetiam a segredos. Li a graphic novel — foi o meu primeiro contato com Poe. E nunca esqueci da representação imagética ali contida de O retrato oval.
Até hoje, aquele segue sendo um dos meus contos favoritos — talvez porque jamais esqueci a expressão dos rostos das personagens ali ilustradas. A história é simples: um jovem casal recém-casado passa seus dias em torno de uma pintura: o marido, pintor, é obcecado pela beleza da esposa, e quer capturá-la no retrato perfeito. Para tal, ela deve posar para ele, imóvel, durante várias horas por dia. Mas a profunda paixão do rapaz pela jovem — e a maneira como ele persegue incansavelmente a tradução da beleza real na pintura do retrato — não considera o tempo, os incômodos ou as necessidades da esposa. De forma terrível, quando o retrato finalmente fica pronto, com todos os detalhes brilhando com vida e beleza, ele olha para sua esposa, que, à sua frente, jaz morta. É uma imagem terrível e bela: a morte é o destino de todos os homens. E há nela beleza. Ainda assim, nunca pensamos, ao nos depararmos com algo que nos fascina, ao nos deixarmos tomar pelo desespero de Eros, que o final daquela perseguição — pela beleza, pelo amor — seja a morte. Tudo acaba; mas a arte permanece.
Neste momento, ainda que seduzidos pela eternização da arte, desejamos nunca ter desejado perseguir esse desejo. Eros nos seduz, e a arte que produzimos seduz aquele cujo olhar paira sobre ela. Mas o que sobra do artista?
Comecei a escrever este texto na quinta-feira, Dia das Crianças, pela manhã, após lutar por muito tempo contra o tema de Eros, que ficava rodopiando na minha mente sem parar há cerca de duas semanas. Estamos, aqui, em estado de acampamento: com os contínuos ciclones no RS, as telhas foram estragadas, o forro e as janelas apodreceram e tudo está meio que aberto e sendo reformado nesta casa. Vivendo neste estado de acampamento, com as coisas todas improvisadas — inclusive a cama —, não pensei que fosse escrever esta edição da newsletter, não pensei nem que estaria aqui, mas cá estou — e Eros não me deixa em paz.
Eu corro dele enquanto ele diz “Olhe para mim, encare seus desejos”. A linguagem molda o pensamento, e a palavra — seja escrita, seja falada — é a tradução de algo inefável. O desejo não pode ser contido em palavras, mas pode ser expressado até esgotar-se — ou nos esgotar. Como em The hound of Heaven, poema de Francis Thomson, corremos dele até que não consigamos correr mais — até que alguém seja consumido, seja pelo desejo, seja pelo amor, seja pelo cansaço. E nos perguntamos se o medo que temos da entrega é pelo fim que certamente virá ou por não sabermos amar. A corrida é êxtase — a vivência da paixão é o amor. E do amor fugimos, ainda que amor desejemos. Numa tradução de Paiva, aqui estão alguns versos:
“D’Ele fugia, noites e dias;
D’Ele fugia pela arcada dos anos;
D’Ele fugia por becos e labirintos
De minha própria mente; e na névoa das lágrimas
D’Ele me escondia e no riso incontido.
Atrás de esperanças imaginadas corri;
E atirei-me, precipitado,
Nas sombras titânicas de abissais pavores,
Destes fortes Pés que perseguiam, perseguiam,
Em caçada sem pressa
Imperturbável passo.
[...]
(Pois embora eu conhecesse o Amor de Quem me seguia,
Contudo eu estava certo na dor,
Que, tendo-O, nada mais poderia ter).
Mas, se apenas uma fresta se abrisse,
O susto de Sua vinda a teria trancado:
Não sabe o medo fugir, como o Amor perseguir.
[...]
Quem tu queres para amar-te, ignóbil ser,
Exceto Eu, somente Eu?
Tudo o que de ti tomei, tomei
Não para ferir-te,
Mas só para que tudo pudesses encontrar em meu abraço,
Tudo o que teu infantil engano
Imaginava perdido, guardei para ti em casa:
Levanta! Segura Minha mão e vem!
Cessa, por mim, estes passos em tropel:
É minha tristeza, depois de tudo,
Sombra de Sua mão, estendida em carícia?
Ah, tão querido, cego, fraco,
Eu sou Aquele a quem procuras!
Do amor te afastavas, tu que de Mim te afastavas.”
O amor — o desejo, o fascínio, a paixão — existe entre dois polos irreconciliáveis: imobilidade e movimento. Querer e fugir. Estas qualidades inerentes ao desejo — medo e entrega — são partes fundamentais do amor. No amor, somos vulneráveis. Quando apaixonados, estamos desnudos de nossas máscaras — a pessoa amada pode nos ver de forma cristalina, e isso é assustador. Nos afastamos para, em seguida, desejar estar próximos novamente. O jogo do amor tem seu próprio movimento, como um pêndulo que vai e vem de acordo com a vibração.
Estar apaixonado — experienciar o eros — nos coloca frente a frente com os nossos limites. É no movimento perseguição-fuga que percebemos o quão pequeno é o nosso pátio — e quão pequenos somos nós mediante um mundo vasto de vastas sensações e possibilidades, todas onde o amor pode se esconder de nós facilmente, pode encontrar coisas melhores do que nós para fazer morada. Ao nos depararmos com um sentimento tão intenso que nem ao menos conseguimos descrevê-lo de fato, nos damos conta de como somos limitados.
“Eros tem a ver com fronteira. Ele existe porque certas fronteiras existem. [...] A experiência do eros como falta, para a pessoa, é um alerta sobre os limites de si mesma, das outras pessoas, das coisas em geral.”
— Eros, o doce-amargo, Anne Carson
A escrita também é assim.
Escrever é traduzir. Me pergunto se Shakespeare se sentiu perseguido por suas histórias antes de colocá-las em palavras — uma necessidade tal que ele criou palavras e expressões para traduzir algo intraduzível, sendo um artista de palavras, e muitas criou para dar vazão ao que sentia ser o mais aproximado possível das histórias no éter. Fugimos das histórias, mas elas nos perseguem pelos locais mais inesperados, até que as traduzamos em palavras, faladas ou escritas. The hound of God is watching us. Anne Carson diz em um poema que a palavra preferida de Emily Brontë era “wacher” (escrita nesta grafia).
“Uma observadora é o que ela era.
Ela observava Deus e humanos e vento na charneca e noite aberta.
Ela observava olhos, estrelas, por dentro, por fora, o próprio clima.
Ela observava as barras do tempo, que quebraram.
Ela observava o pobre centro do mundo,
bem aberto.
Ser um observador não é uma escolha.
Não há para onde escapar disso”
Não se pode escapar do que é para nós. E não se pode fugir de quem se é. Observamos o tempo e somos por ele observados, à espera daquilo que nos aguarda. The hound of God will always find us.
A noção de entusiasmo vem do grego — e, na Grécia antiga, era conhecida como o toque dos deuses, o momento em que os deuses possuem um ser humano. Isso era ligado tanto a sacerdotisas — como as pitonisas, sacerdotisas de Apolo — quanto aos poetas, tocados pelas Musas e pelos deuses. Foi Platão quem escreveu (na tradução de Mário da Gama Kury) que "as criações dos poetas não se devem ao saber, mas à inspiração e ao transe”. Ele também disse: “Aquele que, sem o delírio das Musas, bate às portas da poesia, persuadido aparentemente de que a arte basta para fazer dele um poeta, não chegará a resultado algum, e sua obra de homem de sangue-frio será eclipsada pela dos poetas dominados pelo delírio”.
Talvez a paixão — o eros — seja ingrediente vital para o artista. Talvez nos consumamos ao sermos consumidos pela inspiração catártica, pela epifania. O resultado são rascunhos que mal aproximam-se daquilo concebido de maneira intangível. Tentamos, no entanto. O texto seduz o leitor, enquanto o artista é seduzido e sedutor ao mesmo tempo. Entre a imobilidade e o correr existe a arte, que captura os polos contraditórios de Eros. A nós só nos cabe continuar a correr.
Textos da semana
Estamos em outubro, e, como já é tradição, seleciono, edito e publico textos sobre horror e terror no especial Horror Clássico durante o mês inteiro no QC. Talvez esta seja a minha época favorita do ano — os deuses sabem que eu amo um terrorzin —, e estou particularmente feliz com os textos que as gurias escreveram para o especial. Abaixo, os links dos textos publicados durante a semana, e se alguém quiser conferir todos aqueles já publicados no especial Horror Clássico neste e em noutros anos, basta clicar aqui.
O papel da mulher e a mulher no papel de parede amarelo (Juliana Goes)
Entre pincéis e pesadelos: o sobrenatural nas obras de Dalí e Ernst (Bianca Smiderle)
O Exorcista III: punição para a bondade e angústia perpétua (Babi Moerbeck)
As Bruxas de Eastwick e os desejos do feminino (Camila Ferrari)
Obra de arte da semana
Tenho pensado muito em Medeia ultimamente. É claro, esta que é uma das minhas peças preferidas, gosto muito das mulheres de Eurípides, e agora, escrevendo a pesquisa, tenho me debruçado na história de Agave e suas irmãs e o desmembramento de Penteu. Mas por alguma razão sempre acabo voltando à Medeia. Não acho que me ela estava enraivecida de ciúme; acredito que este assunto é muito mais complexo do que isso. Após auxiliar Jasão na expedição dos argonautas, ele conseguiu o que finalmente desejava, mas Medeia perdeu tudo, inclusive sua familia e seu lar. Como uma estrangeira prestes a ser exilada e abandonada pelo marido, Medeia se deixa corromper pela fúria, mas, ao mesmo tempo, pensa com muita clareza e seus planos são executados com perfeição. A ideia de matar os próprios filhos não lhe vem porque não os ama, e sim porque destruindo seus herdeiros anteriores e impossibilitando que tenha novos herdeiros, ela impede que Jasão obtenha o que deseja e destrói para sempre a possibilidade de ele ter uma linhagem.
A pintura do pintor pré-rafaelita Frederick Sandys é uma das mais famosas representantes do mito da feiticeira Medeia. A personagem central foi inspirada na musa de Sandys, Keomi Gray, sua modelo em diversas pinturas durante sua carreira. É uma pintura a óleo, datada entre 1866–1868. Nela, Medeia está no centro da composição — enquanto ela aperta com força seus colares, seu olhar penetrante se direciona para algo ou alguém fora da composição, ou ela apenas parece estar em uma espécie de concentração profunda enquanto mistura os ingredientes para um novo encantamento. À sua frente, há um pequeno tripé ou um caldeirão, e, enrolado nele, uma espécie de fio vermelho que parece alcançar de alguma forma todos os elementos da mesa, do sapo à pequena estátua à esquerda, assim como os demais ingredientes para a poção que parece preparar.
A cena não dá a entender em que momento da vida de Medeia ela prepara o encantamento, muito menos para o que ele seria utilizado. Mas há algo nessa pintura que me atormenta e me acalma de alguma forma. Penso muito nela, principalmente no olhar de Medeia na obra e em como ao mesmo tempo que ela parece olhar horrorizada para algo, talvez para as consequências de seus atos no futuro, ela ainda assim acrescenta os ingredientes com firmeza no pequeno recipiente enlaçado pelo fio vermelho que conecta ela aos deuses.
Por hoje, é isto.
Antes de encerrar, gostaria de agradecer a todos que têm acompanhado esta newsletter — amo escrever cartas, e tem sido incrível escrevê-las para vocês. Já chegamos a 1200 leitores por aqui, e fico muito feliz e emocionada ao pensar que há tanta gente que lê estas minhas reflexões em forma de carta. Obrigada pelo apoio, queridos. E lembrem-se: se quiserem comentar algo sobre o texto, o QC, leituras etc., basta deixar um comentário aqui mesmo (é possível pelo Substack), mandando uma mensagem nas redes ou enviando um e-mail para queridoclassico@gmail.com.
Também agradeço a Babi pela coluna “Obra de arte da semana”. Eu amo pinturas, mas esta não é a minha área, então é ótimo contar com a Babi para que ela, enquanto historiadora da arte e pesquisadora, fale um pouco das obras por aqui.
Lembrando que estamos lendo O homem da forca, de Shirley Jackson, no Clube do Livro QC. O encontro para conversarmos sobre a obra será no dia 28/10, às 16h. O link para o encontro por videochamada será enviado no grupo do telegram.
Se cuidem e bebam água. :)
Abraços,





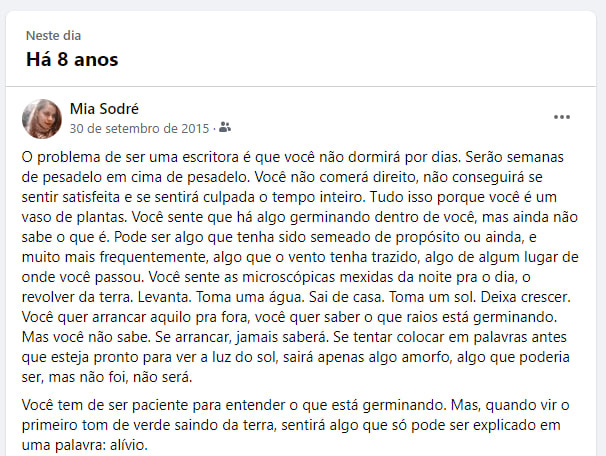



Mia... Que grande Oráculo. Nada mais tenho a dizer. Ah, tenho sim: dia 28 de setembro escrevi na minha lousa e me assombro todos os dias o seguinte: "O Amor reside no mistério. Continuar mesmo sem saber". Você me deu respostas para perguntas que não fiz, mas que germinam dentro de mim.
Temo ter me deparado com o sentimento de Diévuchkin de Gente Pobre, quando ele diz: “…e eis que toda a vida pública e íntima da gente já anda pela literatura afora, e já está tudo impresso, lido, escarnecido e comentado!”
Que absurdo de texto!